Carlos Malta fala sobre O Escultor do Vento
 Há algum tempo atrás, em uma das apresentações que Carlos Malta fez em Nova Orleans, eu tive o prazer de acompanhá-lo a ensaios, oficinas, programas de rádio e shows na ativa vida noturna daquela cidade. Uma noite nos sentamos num barzinho do movimentado French Quarter e, tomando algumas cervejas e se deliciando com a culinária de Louisiana, o papo rolou facilmente. Falamos de improvisação, do começo da carreira, das influências e d’O Escultor do Vento, o projeto que o trouxe até Nova Orleans pela primeira vez.
Há algum tempo atrás, em uma das apresentações que Carlos Malta fez em Nova Orleans, eu tive o prazer de acompanhá-lo a ensaios, oficinas, programas de rádio e shows na ativa vida noturna daquela cidade. Uma noite nos sentamos num barzinho do movimentado French Quarter e, tomando algumas cervejas e se deliciando com a culinária de Louisiana, o papo rolou facilmente. Falamos de improvisação, do começo da carreira, das influências e d’O Escultor do Vento, o projeto que o trouxe até Nova Orleans pela primeira vez.
EL – Qual é a reação do pessoal quando você apresenta essas oficinas, como na Berklee School of Music e aqui na Universidade de Nova Orleans?
CM – Por mais difícil que seja fazer assim uma coisa fora do habitual, assim como na Berklee que tem fama muito ajeitada, muito justa, foi muito legal porque pude justamente jogar com essa propriedade do músico que tem que saber improvisar. Mesmo o músico erudito ou músico clássico, quando ele está perdido, cara, ele vai fazer o quê? Cadê o meu score? Ele vai fazer uma coisa que vai lembrar a ele o que ele precisava lembrar. E isso se chama improvisação. Você está disposto a fazer uma improvisação, fazer de uma improvisação um solo ou uma re-harmonização ou arranjo. Pra mim isso tudo é uma maneira de improvisar. A própria composição, quando você compõe de fato, você está fazendo um improviso dirigido. Você está escrevendo música que não existe. Você está tirando a música de um lugar que não existe. O que você está fazendo? Você está improvisando. Criar é uma maneira de você improvisar e improvisar é uma maneira de criar dentro de uma linguagem jazística. É o momento.
Quando você está dentro do estúdio tem a possibilidade de muitos canais. Então essa foi inclusive uma opção que eu tive quando fui fazer o Escultor do Vento foi justamente não ter essa idéia de sair improvisando. Isso eu posso fazer no palco. Então quando eu fiz o Escultor do Vento, eu qeuria fazer um disco como produtor exigindo de um arranjador e esse arranjador exigindo de um músico. Nessa escala de valores mesmo. Eu era primeiro o produtor que estava gastando o meu dinheiro. Peguei esse dinheiro e resolvi jogar numa coisa minha. O produtor achou o cara campeão pra fazer o som do disco. A virtude máxima do disco é o som. O engenheiro de som Fabrizio de Francesco compreendeu o que era o som que eu queria tirar do disco. Eu dizia:
I want a sound like this, coming out from the walls. I want to see the instruments coming out from the walls. [Eu quero um som assim, saindo das paredes. Eu quero os instrumentos saindo das paredes.]
Aí ele compreendeu isso e fez o som que eu precisava. Então o produtor achou a coisa principal pra um disco: o engenheiro de som. Então como parceiros a gente produziu o disco. Nessa escala de valores o arranjador apareceu como a estrela do disco porque é, e o compositor também eu acho que ali muito mais e o instrumentista como realizador, como articulador. Botei o Robertinho Silva, Leandro Braga, Lenine, Guinga, Nico Assumpção, Nelson Faria, o Quarteto Guerra-Peixe (que é lindo!), Marcos Suzano, Pife Muderno. Todo esse pessoal — são quase 50 pessoas que passaram por esse estúdio. O pessoal do Coreto Urbano, que foi uma gravação que foi uma ginástica pra por todo mundo ali dentro. Foi uma produção assim de jeitinho brasileiro, que tinha de dar um jeito pra sair e ficou maravilhoso. Todo mundo que ouve o disco diz o disco é uma delícia, eu ouço a toda hora, todo dia. É muito bom. Eu acho que as pessoas falam a verdade.
EL – Falando mais de improvisação, no caso de “As Três Moças”, no disco fala que você não escreveu, não havia partitura. Ali foi tudo improvisado?
CM – Ah, ali eu tenho só que corrigir uma coisa: esse crédito. Na verdade quando estava conversando com o [José Domingos] Raffaelli ele compreendeu que essa era a música que eu estava falando. “As Três Moças” está toda escrita e foi uma das que deu mais trabalho porque como eu estou tocando todas as partes, eu tenho que saber qual é a dinâmica de cada uma pra parecer que aquilo é um ensemble tocando junto e ao mesmo tempo, on time. Essa música a qual ele se refere é a última que é “Na Cadencia do Samba/Isso Aqui o Que É”. Ali eu gravei, sabe aquela coisa do little kid in the studio, you know, tem um moleque no estúdio. Então eu gravei um track de guia e falei assim, bom, eu vou cobrir isso aqui com instrumento. Foi o Ary Barroso e Luiz Bandeira do final do disco. Ali eu faço uma homenagem a minha infância musical. Acho que me apaixonei por música muito cedo por causa do Canal 100 que tocava música [Malta vocalisa a faixa do disco]. Aquilo é um arranjo maravilhoso. Aquilo é Léo Peracchi com certeza ou é Radamés Gnatalli. É um tema famoso que passava futebol em câmera lenta. You could see the faces of the guys playing with the ball, everything every detail with the ball.[Você podia ver os rostos dos caras jogando com a bola, tudo e todos os detalhes com a bola.] Uma homenagem às minhas fontes de inspiração e eu fecho o disco com esse som assim [Malta assobia sua “marca registrada”].
EL – Você lembra qual o primeiro disco que comprou? O que te despertou em música?
CM – Olha, acho que a primeira coisa que me despertou em música foi quando eu tinha assim uns 3 anos de idade. Eu ganhei do meu padrinho, que era meu avô paterno e um diplomata brasileiro — acho que estou seguindo o trabalho dele — ele morreu eu era muito jovem. Ele me deu um bicho que me acompanhou, um bicho de pelúcia daqueles que o moleque baba, vomita em cima. É um companheiro…
EL – …Um teddy bear, o tal ursinho de pelúcia.
CM – É isso mesmo. Você dorme com ele. Você tá com febre, você dá porrada na cara dele, sabe, aquela coisa. Pois é, eu vivi com esse bichinho assim uns 10 anos da minha vida, na minha infância. E eu acho que a primeira manifestação de música que eu tive foi quando eu engoli o guizo que ele tinha [risos]. Ele tinha um guizo que eu botei na boca e engoli. E acho que é isso [ele assobia de novo].
EL – Ainda está lá. [risos]
CM – Então tá aqui, bicho. Que doideira! Então, depois disso eu vim a ver muita televisão, muita não. Mas na televisão eu vi um programa com o Altamiro Carrilho tocando a flauta e o Hermeto fazia o acordeon desse program. Tinha o, como é o nome dele, o Serafim da tuba. Tinha umas figuras assim que tocavam nesse programa. Isso aí povoou a minha infância musical. Como eu falo naquela matéria, tinha um grupo que tocava toda Folia de Reis lá em frente à minha casa no museu que hoje em dia é o Museu Carmen Miranda. Na época era o Museu de Artes e Tradições Populares no Aterro do Flamengo. Assim que inauguraram o Aterro do Flamengo fizeram esse museu. Sempre tinha uma Folia de Reis que vinha um flautista, um palhaço. Eu ficava muito assustado com ele pois ele usava uma palha assim e ficava dançando ao som da flauta. Era um negócio de você ficar assim com medo. Eu não via a cara do sujeito. Era palha e o cara dançava assim. Tinha um sujeito que dançava zabumba, todos com chapéu assim. É muito interessante, muito interessante. Depois tem o meu pai que tocava violão em casa um bocado. Eu pegava o violão mas não tocava nada. Eu ficava com o violão na frente assim falando, Pô, que bacana isso, né. Ter um instrumento na mão. Aí eu ouvia as músicas na vitrola de casa. A vitrola de casa tinha uma luz que parecia uma luz de show. Eu botava aquele lance ali e ficava viajando. Era como um palco. Quer dizer, tem coisas que mesmo você sendo muito jovem sana uns ensaios do que é que você vai fazer na sua vida. No meu caso, sempre a música apareceu dessa forma. Aí aos 12 anos eu comecei a tocar a flauta doce que vi na escola. A professora da escola mostrou e tinha uns colegas tocando também. Aí apareceu uma revista que tinha umas fotos de músicos que hoje em dia eu conheco todos. Tinha uma foto do Gil tocando flauta doce. Tinha uma foto do Hermeto tocando, Herbie Mann, Jean Pierre Rampal e outros. Todos esses caras eu conheço hoje em dia. Então o negócio é engraçado que parece que eu estava vendo um troço backwards. Uma coisa assim antes de acontecer.
EL – Os ídolos se tornaram colegas…
CM – Tudo isso é uma coisa engraçada, bicho. Muito louca. A música sempre falou, quer dizer, gritou, berrou, urrou, entendeu, até eu vim fazer essa soma com o Hermeto. Eu viajei pelo Brasil com o Antonio Carlos & Jocafi, Maria Creuza, Johnny Alf, a Cor do Som, Zizi Possi no começo da carreira, Geraldo Azevedo, Xangai. Todas essas figuras eu conheço de longas datas. Eu toco desde 1987 profissionalmente. Com 17 anos eu me profissionalizei. Então, pô, eu tenho pra lá de 20 anos. Tenho que falar baixo se não o ministério vai dizer tem que se aposentar.

EL – E a ligação com o nordeste? Parece que há muito. Ouvindo suas músicas a gente ouve baião, frevo…
CM – Claro. O nordeste é a minha opção. Na época todo mundo estava escolhendo vir pra Boston estudar na Berklee School, eu tenho orgulho de dizer isso, principalmente comendo um camarão assim aqui em Nova Orleans. É, o sul é o pedaço do nordeste que se desprendeu e ficou preso pelo México. Acho que Nova Orleans era preso com a Bahia, Recife e um pedaço do Rio. Aí depois de um cataclisma desses aí da vida, esticaram e puxaram. Não, peraí, dá pra cá. Não, dá pra cá. Aí o México ficou segurando. Cuba ficou no meio fazendo a bola. E a gente fica assim com eles. É lindo isso. Enquanto o pessoal estava indo pra fora, pra Boston, pra Alemanha ou mesmo pra Suíça, eu acreditando que o Brasil era uma das maiores fontes de inspiração, fonte pra explorar musicalmente. Eu pensei, porra, pra que vou aprender a tocar bebop, jazz e não sei o quê, se eu posso aprender a tocar o frevo — que é dificil pra caramba, sabe — se eu vou poder frasear bacana em cima de um baião, saber tocar baião, como é que acentua, como é que faz um maracatu. Quer dizer, isso sempre esteve presente na minha vida, essa música de choro, essa música de bossa nova. Meu pai, como era violonista, ele levava isso pra dentro de casa. A bossa nova eu ouvia dentro da barriga da minha mãe talvez. A minha avó é fundadora do Conservatório Brasileiro de Música, mas não teve a menor influência na minha escolha pela música. Mas de certa maneira, a gente como vem fazendo uma varredura, como vem resgatando outras missões ao longo da nossa vida, a gente acredita que isso tudo seja influência. De uma certa maneira você só constata que isso aí é realmente uma influência.
EL – Acaba ficando parte da sua bagagem.
CM – Claro, isso faz parte. O nordeste apareceu como opção artística pra mim, de desenvolver principalmente a minha técnica, a minha linguagem musical a partir da música do nordeste. Você vê que todas as pessoas que falei, ou grande parte dessas pessoas com que trabalhei, são nordestinas. Todas essas pessoas estavam no Rio. Quer dizer, eu não saí de casa pra encontrar essas pessoas. Por aquelas coincidências que não são coincidências, essa pessoas apareceram na minha vida, quer dizer, eu fui desenvolvendo essa linguagem toda de “nordestejo” ou “nordestinês” ou a maneira nordestina de tocar, de frasear ou de pensar musicalmente. Por causa disso, se tornou, vamos dizer assim, uma coisa que o Luiz Chaves do Zimbo Trio, ao assitir um show meu com o Guinga em Copenhaguem falou: “Malta, você é nordestino e não minta pra mim. Você nasceu, cresceu e se criou lá em Recife”. Eu falei, “Cara, não é, isso não é verdade”.
EL – Mas é o que a gente ouve na sua música, muito…
CM – Eu acho que isso é uma questão de eu ter mergulhado, por exemplo, quando eu toco choro, eu sou um chorão mas que toca da minha maneira. Amanhã você vai me ouvir tocar um choro que é um classico que é o “Espinha de Bacalhau”. Você vai ver como eu apronto um choro. Apronto um choro pra todo mundo chorar junto comigo, cara. Eu não choro sozinho. Todo mundo tem que chorar junto comigo. Eu tenho a minha maneira de tocar, quer dizer, de compreender o acento e a maneira de ser brasileiro. E isso é uma coisa que vejo que é o que diferencia o músico brasileiro, por exemplo, do músico americano, do músico japonês, do músico espanhol. Quer dizer, é justamente aquilo que a gente tem, como vamos dizer, a música a gente usa 3 elementos: o ritmo, a harmonia e a melodia. O ritmo do músico brasileiro, se você colocasse assim um encefalograma no músico brasileiro, a cabeca dele ia ser assim [ele vocaliza o ritmo de] samba, então maracatu ou o frevo ou mesmo a valsa, a valsinha de coreto. Quando eu mostrei a gravação de “Luz do Sol” pro Caetano em valsa, cara, correu uma lágrima. Ele estava gravando Livro e quando ele imaginou, antes dele ouvir, eu vi nos olhos dele nadando o que seria “Luz do Sol”. Mas ele falou assim, “como assim 3/4”? [Caetano canta “Luz do Sol” em 3/4]. Não, ela é mais longa assim [Malta canta pro Caetano]. Aí eu pude ver na cara dele que era o compositor, ele falava assim: “Pô, é uma valsa, e eu nunca vi isso”. Quer dizer, é lindo isso aí. Ele falou: “Mas você comeu palavras na segunda parte”. Eu disse não e demonstrei pra ele. Tudinho, tá tudo lá. Eu respeitei isso aí. Por isso que a música tem essa brincadeira. Quando a gente consegue ser regional da maneira que eu sou assim, eu sou frevo, eu sou baião, eu sou choro, eu sou a valsa braasileira, eu sou um cantador de viola, eu sou essas coisas todas. Dessa maneira eu acredito que vou ser universal. Aonde eu chego, aqui eu vou tocar com o pessoal daqui, nós estávamos hoje ensaiando, aí os caras disseram, “Pô, mas tem pouca indicação na partitura”. É porque eu aceito a sua sugestão. O cara tocou a música inteira e falou, “O que que eu devo fazer?” Eu falei: “Tá lindo o que você tá fazendo”. É uma coisa de referência. O cara vai tocando o negócio e se pergunta, “O que eu tou fazendo aqui, bicho?”
EL – O músico americano parece estar mais ligado na partitura?
CM – Ele é especializado. Eu acho isso bacana. Eu acho isso muito importante. O músico brasileiro de uma certa maneira também é educado da mesma maneira. Eu leio partituras, por exemplo, e consigo organizar uma sinfônica com 80 músicos tocando aquilo que eu quero. Mas quando eu vou realizar algo assim tipo um trio, eu quero deixar a dúvida na cabeça do músico pra saber que ele vai criar. Se eu colocar tudo muito mastigadinho, ele vai falar, ah, this is easy.
EL – Fica sem criatividade…
CM – Fica standard. Eu gosto de criar. Eu cheguei a conclusão hoje que poderia ter escrito tudo, mas eu gosto de criar o impasse. Do impasse pinta a luz, cara, pinta uma coisa assim “e agora”. E agora fica linda quando pinta aquela ponta de interrogação no ar. Os caras falam então que agora eu tenho que botar “my balls in the game”. É isso ai, bicho, você tem que colocar o seu na reta. Eu acho que a música tem essa característica maravilhosa que é, no bom sentido, é uma peleja, mas ninguém sai perdendo. Todo mundo sai ganhando. Com a música todo mundo sai ganhando. A música não subtrai. Ela sempre soma.
EL – A sua música tem um elemento de brasilidade que está estampado em tudo, está na cara.
CM – Muitas pessoas dizem que a polca na verdade era a forma do europeu ser transgressor. Com a polca, pela polca. Mozart apareceu, Bach apareceu, Vivaldi apareceu, Pixinguinha apareceu, os músicos aqui de Nova Orleans apareceram. Tudo através da polca que é uma mistura de estilos: dança e música. Assim, quando o corpo precisa, você tem que colocar o coração. Por isso a valsa é eterna. Por isso o “Bolero” de Ravel é eterno. Por isso Orfeu e Eurídice e tudo escrito pro balé são eternos. Isto é clássico. Se você prestar atenção ao baião, frevo, maracatu e samba — tudo é pra dançar. São eternos.
EL – Você ja tocou com Sérgio Mendes, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Guinga e tantos outros mais. A lista é um verdadeiro catálogo dos melhores nomes da nossa música. Há um nome que voce gostaria de tocar?
CM – Egberto Gismonti. Apesar da gente ter feito inúmeras turnês assim quase juntos — grupo do Hermeto e grupo do Egberto — isso aí seria ideal, poder compartilhar o mesmo palco. O Egberto teve uma influência muito bacana. Antes mesmo de eu começar a tocar com o Hermeto, eu frequentei muito mais concertos do Egberto que concertos do Hermeto. Claro que o Hermeto tocava muito menos no Rio. O Egberto também tocava pouco. Hoje em dia todos os dois tocam nada. A cena no Rio está meio estranha. Bom, mas de qualquer maneira, o Egberto sempre teve uma influência muito linda sobre a minha visão de que que eu quero ser: um cara assim que tenha esse carisma no palco de chegar e mandar o recado dele bacana. Mas depois conhecendo o Hermeto e compartilhando com o Hermeto esses 12 anos que tive ali, eu compreendi que ambos são duas coisas parte de uma mesma coisa. O Egberto do senso perfeccionista, o artista e músico perfeccionista e o Hermeto também perfeccionista, mas o homem da surpresa, o homem da improvisação. Quer dizer, eu sinto que tenho muito dos dois na minha musicalidade. Eu sou um grande realizador e um grande improvisador também. É uma coisa que eu gostaria de ter, assim uma comunhão musical com o Egberto. Eu sei que ainda vamos fazer alguma coisa juntos. Eu gosto muito das músicas dele. Um outro cara que eu gostaria de trabalhar assim como colaborador profundamente não só tocando na banda, mas escrevendo pra ele, concebendo uma coisa pra ele seria o Mílton Nascimento. É um cara que formou a minha música desde menino. O Mílton também eu já tive oportunidade de gravar faixas com ele em disco do Edu Lobo, por exemplo, como membro de orquestra. Mas eu gostaria muito até de produzir um disco do Mílton e fazer o Mílton cantar com outros ventos, acompanhados por outros ventos. Eu acho que a voz dele é feita da mesma coisa que o meu som é feito. É uma coisa assim muito parecida. Eu escuto ele há muitos anos. E tudo que escutei dele entrou na minha cabeça e nunca saiu. Na verdade, “O Mergulho da Sereia” era pra ele ter gravado. A gente mandou uma fita pra ele, mas ele estava numa época de saúde muito estranha. A gente preferiu respeitar e esperar.
EL – A propósito sobre “O Mergulho da Sereia”, é uma das faixas do CD bem diferente das demais composições.
CM – É da Ana Maria [Malta]. Ali foi uma coisa assim muito linda porque eu pensei nessa música e a harmonizei muitos anos atrás. Ela compôs essa música há muito tempo atrás da mesma forma como ela compôs “Jeitinho Brasileiro”, assim cantando num gravador pequeno. Eu pego a fita e vou harmonizando e tal. Eu tava na Suíça na casa do Daniel Pezzotti enquanto fazia uma turnê. Eu peguei a música de noite e passei a noite trabalhando nela, terminando de manhãzinha. Foi uma sensação muito boa fazer aquela harmonia ali. Quando mostrei pra ela, ela gostou muito. A gente pensou em produzir uma coisa com orquestra no estúdio. Eu pensei em que poderia chamar que seria uma “orquestra”. Fernando Moura foi o nome. Fernando Moura é uma orquestra de teclados. Tem um som pro lance que você precisa. Ele recebeu a fita e ficou encantado e a gente pensou no Mílton pra colocar a voz, dobrando esse soprano. Um dia vai ser. Essa música está guardada pra ele. Será incrível. Essa música é a chave do disco no sentido de astral. Ele vem numa hora precisa. Aí vem a música do Guinga no momento em que voce está relaxando. Aliás esse disco foi feito assim com uma ordem bem pensada. O Escultor do Vento é uma estória.
EL – Como foi que partiu a idéia do Pife Muderno?

CM – Cara, o Pife Muderno partiu verdadeiramente quando fui roubado. Uma estória bem brasileira. Outro jeitinho brasileiro. A gente vivia na Urca, assim que saí do grupo do Hermeto. Estava pra fazer o trabalho do Rainbow. Tinha ido pra Suíça gravar com o Daniel. Fui roubado no 4 de julho. Então, bicho, foi um negócio estranho. Entraram na minha casa e roubaram saxofone alto, barítono, tenor, soprano, flauta, flautim, enfim tudo. Deixaram a gente pelado, literalmente pelado. Aí deixaram uns pífanos. Pô, dá pra gente fazer uma banda de pífanos. A necessidade é a mãe da criação! Pô, cara, seria engraçado. Como é que eu seria tocando numa banda de pífanos? Eu falei, pô, seria uma pife bastante moderno, maluco pra cacete.
E aí, isso ficou na cabeça de algum jeito. Bom, eu recuperei os instrumentos. Foi tudo maravilhoso. Prenderam os ladrões. A polícia carioca funcionou maravilhosamente e tudo mais. Bom, e o Pife Muderno nasceu em 94. Na verdade nasceu um pouquinho depois disso aí quando a gente tinha uma encomenda do Centro Cultural da Light que tava abrindo. Então, eu falei, monta dois projetos: o Coreto Urbano e o Pife Muderno. Ali nasceram essas duas glórias da minha vida. Eu acho que é um privilégio ter essa rapaziada tocando comigo assim. É gente que quando falo assim “tem show”, eles dizem, “vamos s’imbora”! É maravilhoso. É gente de primeira linha. Quando um não pode, sempre tem outro. Há o Coreto 1 e Coreto 2 e o Pife 1 e Pife 2.
EL – E o Jeitinho Brasileiro ou O Escultor do Vento?
CM – Esse foi um trabalho de continuidade que desenvolvi a partir do Hermeto. Quer dizer, como músico, mas agora como arranjador, compositor e produtor e idealizador de um universo sonoro. Eu coloquei assim um sampler da minha paleta de sons. Eu escrevo pra cordas, percussão, quarteto saxofônico, pra vozes. Eu mostro ali uma capacidade de arranjador que as pessoas não sabiam que eu tinha. E também uma coisa de composição que as pessoas não sabiam que eu tinha, né. Essa é a minha ligação maior do Jeitinho Brasileiro. Mostrar um pouco mais e dar continuidade do que já tinha mostrado com o Hermeto, quer dizer, o instrumentista.
EL – Fala um pouco de “Morena Bela”. É um arranjo maravilhoso.
CM – Na verdade, você sabe que esse arranjo do “Morena Bela” a gente tava fazendo um show no CCBB com o Lenine como convidado. Era uma homenagem ao Jackson do Pandeiro. “Morena Bela” [ele canta a introdução]: “Morena bela, eu era, eu sou. Morena bela eu serei o teu amor”. Eu estava voltando de carro pra um ensaio lá no CCBB e tive a idéia de um clima como “Stairway to Heaven”. Sacou? Se você pensar nisso ao ouvir o arranjo, você vai sacar o que quero dizer. Porque é um dueto de flautas como em “Stairway to Heaven”. Justamente pra mim, é assim uma coisa que defino você ter uma morena bela assim na sua vida assim como eu tenho, meu irmão ,é bom demais. Eu tava justamente voltando pra minha morena bela, voltando pra casa e aí pra fazer uma música. Essa música eu gravei com esse intuito.
EL – O Lenine com aquele sotaque pernambucano, “come on, everybody”, ninguém resiste.
CM – Aquilo ali é uma brincadeira, uma brincadeira muito sadia. A gente pegou e eu falei pro Lenine que ele é um sampler humano. Então eu vou apertar umas teclas ali e vamos soltar, samplear. A gente tem essa cumplicidade musical há mais de 20 anos. A gente se conheceu lá na casa do Paulinho, o pianista do Arranco de Varsóvia. Foi assim como se estivéssemos feito um pacto. Assim como, aonde rolar um, o outro também rola. E fomos embora. Desde então, naquela época eu comecei a tocar com o Hermeto. Quinze anos sem ver o Lenine. Aí quando me encontrei com ele a gente gravou juntos em Olho de Peixe, Jeitinho Brasileiro [o título de Escultor do Vento no mercado norte-americano], O Dia em que Faremos Contato. Agora até no Na Pressão.

Eu fiz um arranjo muito lindo num samba dele que homenageia o cinema brasileiro. Eu coloquei o Coreto Urbano nessa letra linda que faz um trocadilho com nomes de filmes brasileiros. E por aí vai. Ele é compositor do bloco Suvaco de Cristo, um bloco tradicional do Rio de Janeiro há uns 15 ou 16 anos. Eu gostei muito do resultado. Tá muito bacana o trabalho. Agora vamos pra França fazer um show com o Caetano num projeto chamado Carte Blanche. O Caetano mostra o que quiser mostrar da música brasileira, da arte brasileira. Vai estar o Augusto de Campos, Lenine, eu e o Marquinho Lobo (não o Suzano) fazendo alguma coisa do Olho de Peixe e do trabalho novo do Lenine [o Na Pressão, na época da entrevista]. Vai ser legal pra caramba. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Apesar da economia não querer. Mas parece que a economia não tem muito a ver com a música. Quanto mais a música vai pra frente, a economia vai pra trás.
EL – Como você reconcilia a gravação no estúdio com uma apresentação ao vivo?
CM – Rapaz, olha, é uma coisa muito doida. Cada coisa é uma coisa. Mas a duas são as mesmas coisas. Por exemplo, quando você é chamado pra uma seção de estúdio como no Livro do Caetano com tudo escrito, a gente tem que ter uma atitude completamente submissa ao arranjador pra ele ter de você aquilo que ele quer na partitura. Tem que ser fiel a partitura, a menos que seja um solo. Num solo você tem mais liberdade pra isso. Quando você vai pro palco, você tem que ter essa mesma coerência, essa mesma visao. Só que no palco não tem como fazer de novo. É sempre show time. Eu acho que particularmente eu sou um amante do palco. É uma coisa que eu realmente tenho uma predileção pela performance ao vivo. Se me perguntassem o que preferiria, se trabalhar em estúdio ou só no palco, eu preferiria trabalhar só no palco. Justamente por isso: eu sou um músico que trabalha com a criação, qualquer coisa que acontecer, eu aproveito. Essa coisa do estúdio não existe, não tem. Sou músico de palco, do momento, da hora. Mas eu sou bom de estudio também. Fico horas a fio no estudio. Ja peguei gravacoes assim como a trilha sonora de Tieta que demorou à bessa pra fazer. As sessões eram longas com muito material pra gravar num curto tempo. O último dia da gravação eu saí de manhã. Era como as gravações do Hermeto. Elas eram muito longas também. Eram intensas e que exigem muito. Mas eu gosto desse tipo de desafio. A gente não tem que negar um desafio.
EL – Agora você está fazendo o seu trabalho como quer?
CM – Exatamente, agora estou completamente envolvido com isso. Por exemplo, quando a Gal me chamou pra gravar no disco dela. Eu sempre tive grande carinho por ela, curti muito ela. Agora a gente se aproxima mais por e-mail, “emailando”. Pra mim foi lindo escrever um arranjo pra ela. A Gal como cantora sempre teve essa visão vanguardista como cantora. Ela lançou grandes arranjadores. Debaixo da voz dela apareceram Lincoln Olivetti, Jacquinho mesmo, vários caras. Até mesmo voltando aquele papo de quem eu gostaria de trabalhar um dia, seria poder fazer uma direção musical assim prum show dela. Eu montaria um show muito bacana com música de gafieira, música de big band acompanhando a Gal. A Gal tem um grande approach pra crooner. Eu sonho forte e alto o bastante pra gente realizar isso e deixar ela cantar aquilo que ela quiser cantar. Acho que ela é a cantora pra fazer isso. Ela pode duelar com qualquer instrumento de uma big band e fazer um som assim que ninguém nunca ouviu. A Gal tem essa possibilidade. Não só o alcance, mas o senso de colocação, o senso de consciência no que ela projeta com a voz dela. Bom, fica aí então o registro hoje, 19 de abril de 1999. É uma data mágica. Acho que vou até mandar um email pra ela. Eu amo muito a voz dela. Ela é uma artista ímpar. Assim como foi a Elis Regina. O Brasil tem esse privilégio de mulheres boas cantoras. A arte de cantar não é só uma maneira de ganhar dinheiro.
EL – Você também colocou uns vocais em Jeitinho Brasileiro.
CM – Bom aqui vai mais outro desejo. Eu botei as minhas manguinhas de for ali no “Paradindonde”. Não decepciono. Tambem no “Camaleão” eu faço um vocalise. Eu tenho assim uma gana de fazer uma coisa cantando, produzir um disco dessa maneira. Seria um disco assim sui generis, muito clássico. Um cara que eu admiro muito é o Chet Baker, uma voz tranquila. Acho que eu faria um disco assim cantando samba-canção, baladas brasileiras. Não seria nada pretencioso de “Ah, cantor!” Mas uma coisa pela vontade gostosa de cantar. Acho muito gostoso cantar. Sou um cantor de banheiro. É muito interessante essa possibilidade do que a gente pode fazer com a voz. Eu teria que me preparar e seria um desafio. Não seria pra amanhã, mas quero muito fazer isso.
EL – Além da Gal, quem mais? O Brasil tem, como você disse, muitas cantoras. Quais os cantores então?
CM – Eu gostei muito de trabalhar com o Emílio. Ele tem um approach muito legal. Ele tem um tenor e barítono na garganta muito bem trabalhado. Musicalmente ele tem uma voz que aliás influencia a mim como músico. Essa languidez da voz que existiu na Billie Holiday e Elis Regina e agora a Gal e a própria Jane Duboc e Leila Pinheiro. São vozes que ficam na minha alma musical. A voz da minha própria mulher, a Ana, é linda pra caramba. A gente tinha um trio que eu chamava Trio Calafrio: Hermeto no piano, ela cantando e eu soprando. Era uma pancadaria incrível. A gente se encontrava duas vezes por semana às 11 da manhã na casa do Hermeto. A gente fazia assim cerca de uma hora e meia por sessão. Ele compôs umas cinco músicas nessa época. Um dia eu brincando falei assim que quando esse grupo fosse tocar pela primeira vez, a gente estaria desempregado. Eu e minha boca grande! Já já a idéia acabou. O trio continou a rolar, mas aí forças ocultas não sei o quê, tá tá tá [ele canta as notas inicias da 5a de Beethoven]. Tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Ela continua cantando, produzindo e compondo. Por exemplo, o “Barrigada” que o Pedro Luís gravou no Pife Muderno é maravilhoso. É lindo você poder lidar com uma voz assim tão intuitiva. É o que falo pros alunos nessas oficinas. Se você não conseguir cantar aquilo que você quer tocar, você não vai conseguir tocar aquilo que quer ouvir. Canta pelos menos ritimicamente. Você tem que externar aquilo sem o instrumento. O instrumento é o instrumento. Se você não tiver isso concebido na sua cabeca, não vai sair nada no instrumento.
EL – Aliás esse ritmo é mais fácil pro brasileiro pois ele não se importa tanto em ser perfeito.
CM – Mas é aí que eu acho que mora a perfeição, cara. A perfeição, já dizia o Gil, é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. O universo está em busca da perfeição. O homem, assim com o universo, deve buscar essa perfeição. Justamente pela busca de uma coisa melhor é que a perfeição não existe. A perfeição é você conseguir o máximo daquele momento, mesmo que ele seja um caos.
EL – É a espontaneidade…

CM – É, a música é uma das artes que melhor concentra e consegue harmonizar a manifestáção da espontaneidade. O teatro de uma certa forma também. O cinema ele retrata isso em movimento. A fotografia guarda isso pra sempre naquele momento. A pintura, também, guarda aquele momento pra sempre através da interpretação de cada um. Mas eu acho que a música tem essa propriedade. Você pode tocar a mesma música cinco vezes e cada vez você vai extrair um sentimento diferente dela. Nesse ponto a música é única e inigualável. Não é porque eu seja músico. Nenhuma outra arte vai conseguir uma gama tão grande de interpretações a respeito de uma mesma fonte.
EL – É multidimensional. A fotografia é bi-dimensional assim como a pintura.
CM – É isso aí. Sempre vai acabar em duas opiniões: amei ou odiei. A música é o que melhor traduz o som e o silêncio. Tudo é em dois. Pra haver o som tem que haver o silêncio. E pra ter o porque do silêncio tem que haver o som. Tudo é em dois. Existe o nada e depois veio o tudo. Estamos fazendo uma pororoca musical. A música está lá no disco. É como falei, o disco é uma foto. No show live você vai ouvir o momento que nunca vai ser igual.
O pianista hoje durante o ensaio tocou “Espinha de Bacalhau”. Ele tocou a música e improvisou. Quando ele acabou de tocar a música, ele perguntou: Which tonality were we? (Que tom a gente tocou?) Eu respondi, We were supposed to be in F. It’s a kind of F. (Éramos para estar tocando em fá. Bom um tipo de fá.) Maravilhoso…(Carlos Malta)
EL – A sua gravação de “Carinhoso” é uma abertura de ouro pro Jeitinho Brasileiro.
CM – Rapaz, quando eu ouvi a versão masterizada, eu tive a confirmação da benção do mestre Pixinguinha. Eu respeito muito isso. No ano que eu estava fazendo esses concertos do centenário do Pixinguinha, nós tocamos uma música dele, uma valsa chamada “Dininha” que ainda vem por aí num gravação com o Quarteto Guerra-Peixe. A gente estava no SESC paulista. Quando eu anunciei a música, desceu um papel azul colorido da luz. Eu falei assim, “acho que ela está agradecendo a homenagem, ou ele”. O pessoal comecou a rir. Foi algo assim muito bonito e estranho. Acho que tenho um laço eterno com o Pixinguinha. Ele morreu mais ou menos na época que eu comecei a tocar. Então de alguma forma eu sinto que peguei o bastão. Sinto que ele está passando o bastão. Eu vou um pouquinho mais além com esse bastão que ele correu tanto tempo. Ele, Radamés Gnatalli, o próprio Hermeto a quem servi esses 12 anos. A essas pessoas vai ser sempre lindo a gente pegar o bastão e correr um bocado e passar o bastão de voltar pra eles. É como o Villa Lobos. Ele vai correr sempre com o músico brasileiro. Seja lá qual for o tempo. Ele foi um educador, um disciplinador através da música. Ele colocou 40 mil crianças num estádio de futebol cantando músicas indígenas que ele arranjou especialmente pra essa ocasião. Era uma sujeito que acreditava na educação da humanidade através da música. E através disso, acreditando nisso, ele se tornou um brasileiro universal. Aí está a lição que o Tom Jobim aprendeu, que o Edu Lobo aprendeu, o Hermeto aprendeu, eu estou aprendendo. Assim existem muitos que estão seguindo essas pegadas do Villa Lobos, Pixinguinha, do Joaquim Callado. O Callado foi o flautista precussor do choro. Eu o considero uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante. Ele influenciou grandes realizadores. Callado pode não ter sido o que realizou de fato no papel, mas a atitude musical dele retrata isso aí. São pessoas que conseguiram deixar um nome. O Callado é a corrente musical da intuição, aquela que não ficou registrada nas bibliotecas nem nas discotecas e editorias de música. É justamente aquilo que ficou no inconsciente coletivo. É aquilo que o Alceu Valenca fala no disco do Pife Muderno: “A música também tem genealogia, não nasce de uma geração espontanea. Ela está presente nos arquétipos, nos ícones, nos mitos e no inconsciente coletivo de um povo”. Eu acho que o Joaquim Callad oé como se fosse um Robin Hood, um Rei Artur da música popular brasileira. Ele promoveu a polca e da polca ele extraiu um crossover do choro, da síncopa. Foi ele que sincopou a polca. Ele botou uma cintura na jogada. O Callado é uma das nossas grandes fontes de inspiração. Como ele, eu talvez esteja passando assim o bastão musical dele como um transgressor das normas musicais. O Pife Muderno é um exemplo disso aí. É um exemplo de como você pode ser sutil e não precisa seguir realmente todas as regras da teoria musical pra estabelecer uma concepção musical. Na verdade a gente até transgride algumas numa boa abertamente e com todo o bom humor. Mas o resultado é que importa. As pessoas adoram. Elas não pensam que aquilo ali é um jogo de quintas paralelas que se seguem. Desde que se tenha bom gosto e a intenção de entreter musicalmente, isso funciona. A música tem que ter essa propriedade. Você descobre cada vez coisas mais novas e mais lindas. Muito mais importante do que o músico ser apreciado por aquilo que ele toca muito bem é a música que ele traz com ele. Ele tem que ser um servo da música. O músico tem que atuar como músico assim como um ator atua sobre um texto. Eu acredito mais naquele músico que conta uma estória que demonstra que uma música é boa. Esse é o contexto que eu optei.
[Para os interessados, eu escrevi uma resenha sober O Escultor dos Ventos (ou Jeitinho Brasileiro, como foi chamado o CD no mercado norte-americano). A resenha é em inglês e está aqui.]
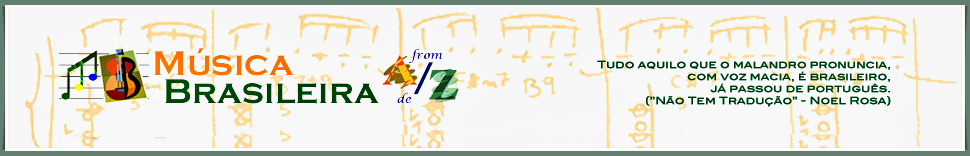






You must be logged in to post a comment.